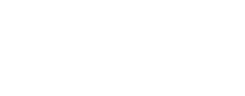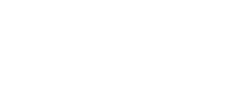Em 1º de maio de 1886, milhares de trabalhadores foram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, reivindicar melhores condições de trabalho. Décadas mais tarde, em 1941, era instituída, na mesma data, a Justiça do Trabalho brasileira. Carregado de simbolismos para o mundo trabalhista e seus atores sociais, o 1º de maio recebeu o título de Dia do Trabalhador. Neste artigo, Daniela Muller, diretora da AMATRA1, reflete sobre a essência do Direito do Trabalho e faz uma análise histórica da luta trabalhista.
Leia o artigo:
Na rotina das relações de trabalho, muitas vezes nos atemos ao cálculo de horas extras, à conferência de recibos salariais e registros funcionais e, com isso, nos distanciamos do significado mais profundo do Direito do Trabalho, que é o da proteção à pessoa que trabalha, faceta que o torna tão especial e cada dia mais necessário.
Muito mais do que regular a burocracia laboral, o Direito do Trabalho surgiu para proteger a pessoa, o ser humano que inevitavelmente está inserido no contrato de trabalho, uma relação onde o trabalhador disponibiliza muito mais do que certa quantidade de força de trabalho. Junto a ela, ele disponibiliza o próprio corpo, sua subjetividade, cansaço, inteligência, medos; enfim, a própria pessoa humana que realiza esse trabalho.
As questões reguladas pelo Direito do Trabalho vão muito além do espaço da produção. Nesse sentido, quando a norma jurídica estabelece um limite para a jornada de trabalho e condições de segurança e saúde do trabalhador, por exemplo, ela está ao mesmo tempo assegurando tempo de vida saudável, tempo de convivência familiar e social, tempo para professar sua fé, para participar de atividades culturais e esportivas; enfim, tempo para ser gente, e não apenas um corpo que trabalha e que é descartado quando não serve mais.
Esse sentido forte do Direito do Trabalho está relacionado à sua origem, que são as lutas e a mobilização dos trabalhadores inconformados com as péssimas condições de trabalho geradas por um mercado sem regulação social. Há tempos já se constatou que “a ficção da mercadoria menosprezou o fato de que deixar o destino do solo e das pessoas por conta do mercado seria o mesmo que aniquilá-los.” 1
Ao perceber que “o mercado, deixado a si mesmo, tende a adaptar a marginalização de alguns e torná-la produtiva e funcional para os estratos superiores”2, os trabalhadores passam a se organizar para exigir que a Lei cumpra seu papel cidadão de concretizar as garantias prometidas desde os primórdios do sistema liberal, de garantir uma vida minimamente boa, com dignidade e liberdade para todas e todos, ao invés de apenas permitir a funcionalidade da miséria em prol de poucos abastados.
Foi a mobilização de milhares de trabalhadoras e trabalhadores, através das lutas sindicais coletivas, que possibilitou ao Direito assumir a função de proteger o ser humano, o corpo físico e mental inserido no “obscuro objeto do contrato de trabalho”. A norma jurídica, nesse sentido, serviu para limitar a sujeição do ser humano, reduzir a carga e as condições mortíferas de trabalho e, desse modo, atuar como instrumento de bem-estar.
Uma peculiaridade da técnica jurídica que permitiu tornar humanamente vivível o maquinismo industrial; o direito, aqui, funcionou como uma “ferramenta interposta entre o Homem e suas representações, [...] o Direito cumpre assim uma função dogmática – de interposição e de proibição. Essa função confere-lhe um lugar singular no mundo das técnicas: a de uma técnica de humanização da técnica.”3
No Brasil, a luta pelo estabelecimento dos direitos sociais e trabalhistas se entrelaça à luta pelo fim do trabalho escravo. O avanço da legislação social está diretamente ligado à mobilização social, tanto para a eliminação do “elemento servil” (eufemismo da época para designar trabalho escravo), quanto para o estabelecimento de garantias mínimas aos trabalhadores livres sem patrimônio. As mulheres são protagonistas nessa mobilização, pois foram as operárias da indústria têxtil de São Paulo que iniciaram a paralisação que deu origem à primeira greve geral brasileira, realizada em 1917.
Mas as normas legais, especialmente as de cunho social, valem pouco se não têm efetividade. O surgimento da Justiça do Trabalho, portanto, está relacionado à política pública necessária para concretizar a proteção legal aos trabalhadores, através de acesso ao Poder Judiciário e de um processo ágil, uma verdadeira política pública de Estado, construída por décadas pela sociedade e que, por isso, vai muito além das transitórias políticas de Governo e de necessidades circunstanciais.
Neste primeiro de maio, é tempo de relembrar a origem de lutas através das quais se constituíram o Direito e a Justiça do Trabalho e reafirmar o compromisso social de dar plena efetividade aos direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora e necessários para a realização de uma vida digna e minimamente satisfatória.
1. POLANYI, Karl. A grande transformação. As origens da nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2001 – 3ª edição. P.162.
2. SOUZA, Jessé. A Elite do Atraso: da escravidão à lava jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. p.57.
3. SUPIOT, Alain. Homo juriducus. Ensaios sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 144.
Notícias
Artigo de Daniela Muller: Dia do Trabalhador, dia de vida!
14:57

Av. Presidente Wilson, 228 - 7º Andar
Centro – CEP: 20030-021 – Rio de Janeiro – RJ
Centro – CEP: 20030-021 – Rio de Janeiro – RJ